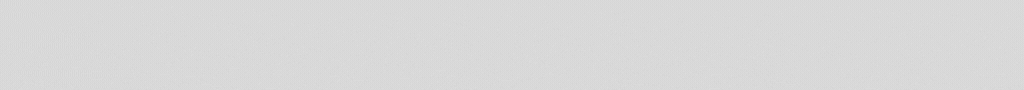SEMILOAD – Lana, não está faltando nada no seu disco novo, não?
 Foto: divulgação
Foto: divulgação

* Bom, hoje é Lana’s Day. Fica tudo meio turvo para o restante dos humanos musicais quando sai um disco da musa americana dos romances trâgicos mas glamurosos. O site inglês “NME” deu todas as suas estrelas disponíveis para o álbum “Chemtrails over the Country Club”. O “rigoroso” site americano “Pitchfork” deu uma booooa nota 7.5 (para os padróes pitchforkianos).
Mas e nós? Gostamos do disco?
Hummmmm.
Em conversa com Dora Guerra, que semanalmente faz a incrível newsletter Semibreve e agora armou até um site para se apresentar melhor, descobrimos que ela gostou até mais que a gente do novo da Lana. Então, pela nossa paixão eterna pela cantora, vamos deixar a Dora entregar nosso sincero parecer combinado sobre “Chemtrails over the Country Club”, em forma de pensata.
Nós, a Popload e a Semibreve (ou, enfim, a SEMILOAD), concordamos que é um verdadeiro disco dA Lana del Rey. Mas, que está faltando alguma coisa nele para ser UM VERDADEIRO DISCO DA LANA DEL REY, isso está…

Inevitável: Lana Del Rey não consegue deixar de ser Lana Del Rey.
Esse é seu maior fardo e sua maior vantagem – há nove anos, Lana cria sua própria realidade etérea, nostálgica de uma época que só existiu na televisão e não na vida real. Aquele universo que, infalivelmente, glamouriza cada segundo de melancolia. Para quem compra a viagem, ela nunca falha. Para quem não tem o costume de fazer o trajeto, ele tende a ser cansativo. Mas é sempre um caminho similar – bonito, contemplativo, frequentemente pouco funcional.
Eu não sou uma viajante que sempre paga por esse ingresso. Quando Lana passou por “Norman Fucking Rockwell” – um trajeto que, sobre o piano, andava por territórios como o da feminilidade, da vulnerabilidade e de um país em pedaços –, foi a primeira vez que me perdi de fato na paisagem. Refiz a viagem diversas vezes; entendi, finalmente, o grande apelo de uma cantora já influente, combinada com um produtor que a compreendia.
Achei que, por isso, eu já estaria mais treinada ao chegar onde chegamos: no trajeto “Chemtrails over the Country Club”. Mas houveram percalços no caminho, como a própria Lana – tão imersa em si mesma que, na eterna tentativa de dizer algo certo, acaba dizendo a coisa errada. Já cheguei com o coração fechado. Mas segue o diário de viagem, ainda assim.
“Chemtrails” (álbum) começa igual, mas diferente. Nós não conhecíamos Lana como uma cantora de falsete, mas conhecíamos essa sonoridade. E você se pega em um déjà-vu infinito, que funciona cada vez menos.
As melodias parecem ser as mesmas; os temas com certeza são. É como se Lana estivesse se citando o tempo todo: em “Wild at Heart”, você fica esperando a melodia de “Hope Is a Dangerous Thing…” e praticamente a recebe. Não se mexe em time que (quase) ganha Grammy… Certo?
Para muitos artistas, a música funciona melhor quando explicada; quando conhecemos os detalhes de quem a pessoa é, do que ela está falando, do quão real é a letra. Não é o caso de Lana. Quanto mais ela se abre, mais lembramos que suas músicas são puramente abstratas. Recordo que, quando ela apareceu, a internet se perguntava quem era ela de fato; eu ouvia histórias mirabolantes de cirurgias plásticas, pais milionários, uma trajetória digna de atriz de cinema dos anos 50. Quase uma década depois, a fantasia de Lana Del Rey já se dissipou – e, quando ela afirma que é “selvagem”, fica difícil acreditar. Vira uma música de promessas, de alguém que não necessariamente é o que canta, mas que acredita fielmente que é. E quando ela recita frases como “Not all those who wander are lost”, frase de tatuagem em letra cursiva, não parece que haverá nada de realmente profundo no trabalho.
Mas, sempre que estive prestes a desistir, Lana provou que ainda pode mostrar outras facetas. Ela visita o trip hop em “Dark But Just a Game” (minha preferida, sem dúvidas) e, de repente, você se interessa de novo. E percebe: não é a vibe Lana que cansa, desde que ela venha com outros formatos. Outras coisas novas aparecem – isso fica nítido em faixas como “Tulsa Jesus Freak”, que explora autotune e uma bateria também meio Massive Attack. Experimentações combinam com ela; flertes com outros gêneros também. Ao fim de “Dance Til We Die”, de repente encontramos um rock/blues delicioso, com instrumentos de sopro e tudo – me deu vontade de um disco inteiro assim, mais vivo. Mas o momento logo acaba e eu concluo: Lana boa é a que experimenta.
As grandes estrelas do álbum são os arranjos, com instrumentos muitas vezes tocados pelo produtor Jack Antonoff. São músicas cheias de elementos e detalhes, construindo um corpo pra tudo que a artista narra. É uma herança provável de faixas como “Mariners Apartment Complex”, mas que ocupa faixas inteiras. E a mágica de um bom produtor acontece: o que provavelmente começou como desabafos em um diário é, de novo, transformado em um universo à parte. Com novas vozes – de Nikki Lane, Weyes Blood, Zella Day – muitíssimo bem recebidas nesses cenários, incluindo em um cover de Joni Mitchell, estrategicamente colocado no fim: se você não entendeu para onde estávamos indo, Lana desenha.
Mais uma vez, Lana Del Rey não consegue deixar de ser ela mesma – tão confiante e literal em sua visão que raramente nos proporciona algo de novo. Para quem sempre amou a viagem, o resultado é exultante; para alguém como eu, que se empolgou só com o último passeio, algo fica faltando. Mas o que sempre está lá é a identidade infalível, sonora e visual.
O que nunca faltará a Lana Del Rey é… Lana Del Rey. E, assim, ela se basta.
>>