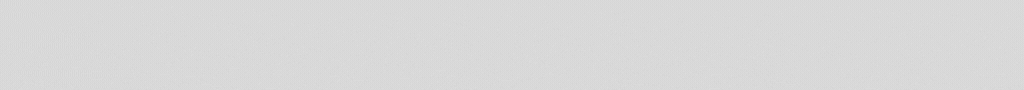Todo mundo odeia o Tame Impala novo. Menos nós, parece! Nota 4 (de 5)

O mundo parece ter combinado de implicar com Kevin Parker. Desde que “Deadbeat”, o quinto e novo álbum do Tame Impala, caiu no mundo na semana passada, o coro é o mesmo: “Estagnou”, “Ficou morno”, “Cadê o gênio de “Currents”?”, “Tem algo errado aí”.
Pois é, talvez o erro seja justamente achar que Parker ainda quer ser o mesmo cara que, há dez anos, fazia uma legião de hipsters (e não-hipsters) surtarem com sintetizadores psicodélicos e refrões existenciais.
“Deadbeat” pode não ser o disco que todo mundo esperava, mas é o disco que Parker precisava fazer. Depois de anos pulando de gênero em gênero, não por confusão, mas por pura curiosidade, ele se meteu a produzir e colaborar com artistas de universos completamente diferentes: Dua Lipa, Lady Gaga, Gorillaz, Mark Ronson, Kali Uchis, entre outros. De quebra, ainda ajudou a pavimentar o boom do pop eletrônico australiano, influenciando toda uma geração de conterrâneos como Jagwar Ma e Parcels.
Isso definitivamente muda o ouvido de qualquer um. E é aqui que o eletrônico se alastra e se faz essencial ao álbum novo, antes reconhecido apenas como uma escapadinha experimental que temperou faixas dos antecessores “Currents” (2015) e “The Slow Rush” (2020).

O primeiro single “End of Summer”, que já havia aberto a nova era meses atrás, serviu para avisar: “Não vim com psicodelia de sofá, vim de pista”. Parker veio depois verbalizar como inspiração principal as raves australianas ao ar livre, os chamados “bush doofs”.
Nos singles seguintes, “Loser” e “Dracula”, a psicodelia que sempre sustentou o Tame Impala ainda dá as caras, agora mais contida, escondida sob grooves suaves e batidas mais discretas. São, provavelmente, as faixas menos eletrônicas do disco, algo que se confirmou nas versões acústicas apresentadas na participação da banda no Tiny Desk americano lançado junto com o álbum, na mesma sexta-feira passada.
E eis que, no lançamento de conhecer a obra por inteiro, “Deadbeat” revela suas cartas mais intrigantes: as faixas “Ethereal Connection” e “My Old Ways”, dois momentos que resumem o espírito do álbum.
Enquanto a primeira é o delírio de Parker em modo DJ esticando uma batida de techno até o limite num transe de quase oito minutos, a segunda remete a uma voz que parece cantar repetidamente em loop de dentro da própria cabeça de Parker.
A interessante “Oblivion”, enquanto apresenta uma sonoridade que simplesmente flutua, um falsete que fica meio borrado e uma batida de dembow que arrasta os pés, ao mesmo tempo é um lindo manifesto de desapego e rendição. Nada de drama: quem entende que se não dá para voltar talvez o melhor seja se dissolver.
E, se parece que estamos até aqui advogando por “Kevinho”, talvez seja porque, no fundo, alguém precisa fazer isso.
Atingir um plateau criativo é uma hipótese válida, mas diz mais sobre manter o mesmo nível de qualidade do que não surpreender ou reinventar.
“Deadbeat” não é um disco fácil de amar, começa sim bem, dá uma despencada até que expressiva, e depois termina muito bem. Sem contar que é um forte candidato a aquele álbum que está longe de ser ruim, mas precisa de tempo pra continuar crescendo dentro da gente. E está com cara mesmo que só vai crescer. É o Kevin Parker, gente!

Permita-se dar uma chance a “Deadbeat”. Experimente preferencialmente na pista, recomendamos.