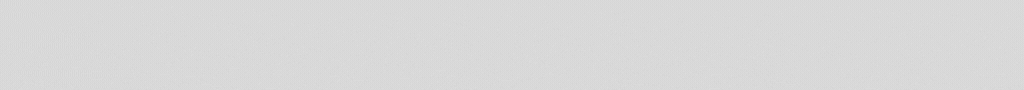O que a gente aprendeu com o Lollapalooza 2019. E como isso pode afetar o futuro do festival. E, claro, os principais shows deste ano
 Foto: divulgação
Foto: divulgação
>>
* Massacre para as pernas, quantidade cavalar de informação que é difícil de processar toda, superexposição visual e de sentidos, chuva, raios e sol, 246 mil pessoas represadas em 3 dias para ver 70 atrações, cheia de pulseiras diferentes no braço, subindo e descendo morros e contornando grades, com internet razoavelmente funcionando para gerar a maior quantidade de selfies e fotos de galera da história brasileira, povo chegando de van vip, uber ou trem para desfrutar de todas as áreas oferecidas: a comum, o lounge vip, a vip master e a vip da vip master. Impacto de marcas patrocinadores a cada passo, na roda gigante ou com pacotes de salgadinhos gigantes andando entre o público.
Lá se foi mais um Lollapalooza.
Mais do que uma aventura de se prostrar em frente a palcos para ver shows, ou sentar no sofá para análises profundas em som pastel e clima zero, o Lollapalooza levantou questões sobre o estado de coisas da música atual. Sem pretensão de desfilar aqui verdades verdadeiras sobre o que está acontecendo, porque vai saber o que está acontecendo na música, a gente vai aqui roçar em algumas QUESTÕES provocadas pelo Lollapalooza 2019.
Tipo assim: o Lollapalooza passou, o achismo passou, o gostei-não-gostei passou e, à medida que os shows tendem a esfriar na memória, algumas percepções mais reais começam a esquentar na cachola e podem render ainda muito debate em mesa de bar roqueiro, na lanchonete cool que toca música indie, enquanto você e seus amigos esperam a vez de cantar pop em karaokê ou no Twitter, que centraliza tudo.
Algumas dessas questões parecem mais evidentes. Se o funk cabe ou não no Lollapalooza é uma delas e parece bem respondida: sim, cabe. E isso veio no meio do surpreendente (para o bem) show do Post Malone, com a bombástica participação do MC Kevin O Chris. Só reforçou o que a participação do MC Bin Laden no show do Major Lazer em 2016 evidenciou: sim, o funk cabe se o festival seguir apostando que sua fórmula é abrigar o que de melhor o pop tiver no momento. A discussão antes da edição brasileira do Lollapalooza era sobre termos o nosso funk representado nas edições estrangeiras do festival e não por aqui. O papo seguirá após o festival, evidentemente, e deve ficar forte próximo das confirmações do line-up do ano que vem. Talvez não tenha mais para onde correr.
Nessa conta, qual será o futuro de bandas de rock dentro do festival? O Greta Van Fleet entregou um show que convenceu o público enquanto dividiu opiniões de “críticos especializados” e do público do sofá. Claramente tinha a “energia” do rock ali. A banda, ainda que emule um Led Zeppelin descarado, sem o punch e o estilo do grupo lendário porém cumprindo um papel de reboot clássico para novas gerações, segura bem um show diante de um público já gigante, o deles. Mas daí a pensar que o GVF pode ocupar a posição de headliner no futuro parece uma pergunta sem resposta ainda, o que eles ajudam a responder é que o festival ainda tem sede (e reza) por grandes bandas de rock: uma chave onde estão desde bandas mais velhas, pense em Foo Fighters e Pearl Jam, e bandas nem tão novas assim mais, caso do Arctic Monkeys e do The Killers, por exemplo. Você acha um absurdo aparecer um Strokes no topo da lista de 2020, como já apareceu em alguns festivais de fora neste ano, mesmo com a banda sem fazer algo relevante desde, sei lá, o terceiro disco, há mais de dez anos?
Difícil pensar em alguma novidade do rock que arraste uma multidão. Isso, pelo menos, ainda com um som “duvidoso”, ou polêmico, o Greta Van Fleet conseguiu. É claramente uma “banda de festival” já.
Mas voltemos a falar do pop. Esse conceito por si só já muito pulverizado que ficou ainda mais diluído na programação apontando para muitos lados. Parece que não resta nenhuma dúvida de que Sam Smith, Post Malone e Twenty One Pilots possam ser headliners láááá na frente. Até a “pequena” Jorja Smith parece uma estrela ascendente pela fofura que foi a apresentação dela. Goste-se ou não das músicas dessa galera citada, cada um na sua, esses nomes impressionaram no quesito “arrasto de grande público com todo mundo cantando tudo”. Principalmente o último, o Twenty One Pilots, que não é nenhuma novidade mas carrega um frescor de “banda do futuro”. O duo já está gigante, acima de seus parâmetros, nos EUA e na Inglaterra. É a segunda banda do line-up do Reading Festival deste ano do nobre segundo dia, o sábado (abaixo apenas, adivinhe, do Post Malone). E está na primeira linha do gigantesco Lollapalooza de Chicago, a matriz. Colado a megastars como Ariana Grande e Childish Gambino. Uma análise de projeção desta que estamos fazendo para o Twenty One Pilots poderia ser construída, há uns anos e guardadas as pegadas e os estilos, para o Cage The Elephant, por exemplo, que é legal, tem um show intenso e foi trazido ao Brasil pela primeira vez pelas mãos de Dave Grohl. Mas não sei se chegarão mais onde poderiam. Ou prometiam.
Iza e Troye Sivan, por sua vez, já saem do festival com jeito de que podem ocupar posição grande numa próxima vez. Até de principal atração do palco Onix, o segundo maior do Lolla, por exemplo. A primeira se o festival quiser ousar. O segundo por sua vocação enorme de ser bem mais que um músico.
A questão do indie no Lollapalooza talvez seja a que levanta mais dúvidas quando pensamos nas próximas edições. O Arctic Monkeys provou que segue no jogo, mas apontou para uma sonoridade que não é a mesma que fez o público deles no Brasil ficar enorme, à medida que a banda “envelheceu”. é linda, ainda, mas talvez a curva para baixo tenha chegado. Por outro lado, Kings of Leon, que surpreendente nem fez um show ruim, só pareceu cansado, sem grandes novidades e com pouco fôlego para tomar o lugar que hoje é de grupos clássicos como, de novo, Pearl Jam, Foo Fighters e outros sobreviventes de quando o rock vinha da grande indústria da música, que quase não existe mais. Ou existe sim, mas com nova acepção de “grande”. Por vários motivos, a geração do download encara questões inéditas na indústria. São as primeiras bandas que envelhecem sem apoio massivo do rádio, para ficar em um exemplo. O repertório deles será suficiente para lidar só com nostalgia? Interpol foi lindo, mas quem precisa mais de Interpol olhando-se para o dia de hoje?
***
* Sobre alguns shows dos quais queremos falar umas coisas:
***
#KendrickLamar
Melhor show do festival? Talvez alguém discorde, mas pelo menos é fato que Kendrick Lamar veio ao Brasil em seu melhor momento na carreira até agora – não duvidamos que seu próximo disco e turnê sejam seu novo melhor momento. Em um show que vai direto ao ponto enfileirando hits e favoritas dos fãs, destaque para roupagem nova que a banda, em especial o baterista, dá para as músicas ao vivo. Quem estava perto do palco tremeu com os graves. Os graves foram um dos “personagens principais” do show do Kendrick, além do próprio e ao lado dos conceitos chinenes do telão, que foram o fio condutor da apresentação. Inclusive os interlúdios, que poderiam esfriar o clima do show com seus pequenos filmes, funcionam muito bem ao dar o tom do humor e do clima que Kendrick Lamar pretende dar a sua apresentação. Se for para reclamar de alguma coisa, algo difícil, talvez seja a opção por tocar músicas onde ele faz a participação especial, ou feat., como você preferir chamar. Trocaríamos qualquer uma dessas por “i”, por exemplo, que deve soar ótima com banda e tudo. Não fez falta, em todo caso.
#ArcticMonkeys
Melhor show do festival? É meio impossível falar de Arctic Monkeys no Lollapalooza Brasil sem tecer comparações a sua última visita ao festival – lá em 2012, como headliners da primeira edição. À época, estavam em turnê com o “relativamente fraco” disco “Suck It and See”, mas o vocalista Alex Turner impressionava pela transformação visual que estava tendo: não era mais o nerdão indie de cabelo comprido e cara de mau; tinha virado um greaser meio Elvis, meio James Dean, com jeitão de sedutor. Sua atitude também havia mudado, agora quase parecendo um frontman de verdade, com atitude e presença de palco. De lá para cá, sete anos depois, a transformação está completa: Alex Turner é um frontman completo, digno de ser headliner de festival, já perfeitamente apropriado de seu estilo visual e comandando uma plateia por 1h45 de show. A banda está até mais, argh, adulta. E maior, com dois ou três músicos de apoio que aparecem para encorpar o show, durante toda sua duração.
Alex toca piano desta vez, até para acomodar as canções do mais recente disco. O setlist teve cinco músicas dele, o polêmico “Tranquility Base Hotel and Casino”, ótimo para alguns e intragável para outros. Mas ainda favoreceu bastante o famosinho “AM”, de 2013. No geral, houve um bom equilíbrio entre material recente e antigo, com poucos pontos mornos (a jam após “505”) e poucas ausências óbvias (“The View From the Afternoon”).
A evolução da banda em si ficou óbvia nas músicas mais pesadas: “Brianstorm”, “Library Pictures”, “Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair” e “Pretty Visitors”, eram apenas “legais” em 2012, mas soaram absolutamente destruidoras desta vez, aproveitando todo o poder de distorção e volume que o som tinha a oferecer. Já nos momentos mais melódicos, Alex Turner se deslocou com confiança pelo palco, sem guitarra, facilmente encantando o público (vale dizer) em boa parte feminino. Em um momento, parou à frente de um dos gigantes telões laterais, olhou para trás e deu de cara com seu próprio rosto ampliado. A reação dele foi um “susto”, quase fofo, brevemente humanizando a sua imagem de galã. Se foi uma reação genuína ou ensaiada, não saberemos; mas para o efeito do show, deu certo. E pensar que, lá em novembro de 2011, talvez questionássemos, nesses exercícios de prever o futuro, se o Arctic Monkeys poderia mesmo ser headliner de um festival como o Lollapalooza num país como o Brasil. Né?
#The1975
Dois anos atrás, quando o The 1975 tocou no palco Ônix às 5 horas da tarde, comentamos aqui na Popload que o show parecia um Michael Jackson sem hooks, ou um The Weeknd sem subversividade — mas que tinham um visual bacana no telão. Agora, em 2019, The 1975 novamente tocou no palco Ônix às 5 horas da tarde, e percebemos que erramos um pouco. A banda é, na verdade, um Sandy & Junior sem graça e moderninho que, de alguma maneira, captou a atenção do público indie – mas continua tendo um telão bacana. Telão esse que, na última música, mostrou frases contendo críticas (supostamente) feitas à banda, como “genuinely laughable”, “lacking the wow factor” e “vacuous arena synth pop”. A ideia, imaginamos, era mostrar que a banda superou as críticas. Virou a “maior banda pequena” da Inglaterra, por causa do disco bem produzidão que lançaram no ano passado. O problema é que as velhas críticas continuam fazendo sentido. A mais coerente é a que aponta que o 1975 parece “banda da Disney”, nos hits, desses que a galera que acompanha a música inglesa desde o britpop costuma ouvir enquanto bota seus filhos pequenos para ver filminho ou desenho e sossegar. Ok, pode ser um choque geracional destes que sempre acontecem. Conhecemos “pessoas confiáveis” que gostam de 1975. Mas enfim.
Bem ao fim, no telão, os dizeres: “ROCK AND ROLL IS DEAD, GOD BLESS THE 1975”. O que uma coisa tem a ver com a outra?
#St.Vincent
Dentre os vários artistas que retornam ao Lollapalooza Brasil após alguns anos, St. Vincent (ou Annie Clark, como preferir) deve ser a que mais alterou seu show entre visitas. Em 2015 ela veio acompanhada de uma banda completa, trazendo seu disco epônimo (o mais “rock” de sua carreira), e foi espetacular. Para a turnê de seu disco mais recente (e mais pop), “Masseduction”, St. Vincent experimentou dois formatos ao vivo: um com banda de apoio, e outro sem. Aqui, para nós, veio o segundo. Clark ficou sozinha ao palco, cantando e tocando guitarra, com a parte instrumental das músicas vindo de uma gravação. Isso resultou numa atmosfera menos orgânica para a apresentação, ok. Mas mesmo assim não há como reclamar muito além disso. St. Vincent consegue carregar o show sozinha, seja pela sua voz fantástica, pela suas habilidades na guitarra (muitas guitarras, e que ela as projetou e fabricou), ou por seu aspecto visual. O telão ao fundo, que muitas vezes mostrou vídeos relativamente toscos, era mais uma distração. O público reagiu bem à sequência inicial de cinco músicas do disco mais recente, mas ficou mais receptivo com as 5 antigas que vieram logo em seguida. Aliás, vale mencionar: todas essas vieram em versões remixadas, significantemente diferentes das originais, mas ainda identificáveis e boas. Para fechar, uma curta versão a capella de “New York” em homenagem a São Paulo, incluindo as palavras “Rua Augusta” e “Filha da mãe”, logo seguida pela música normal. Volte sempre, Annie Clark.
#BringMetheHorizon
O primeiro show completo após a paralisação das chuvas do sábado, o BMTH pareceu tocar exatamente o que os fãs queriam, e surpreender o público que estava apenas de passagem. A banda de metalcore (que agora pende mais para um pop rock) tocou com confiança absoluta do início ao fim, independentemente de estarem escalados entre Snow Patrol e Lenny Kravitz em um festival indie. Quando tocam suas músicas mais pesadas, é como um Linkin Park melhorado. Quando tocam as mais pop, é apenas meio ruim. Você pode até não gostar muito do som dos caras, mas é difícil não se contagiar pela atmosfera do show, que alterna entre gente fazendo mosh e cantando apaixonadamente letras melosas. Seria, digamos, 60% guilty pleasure e 40% vergonha alheia, mas 100% valendo a pena assistir, mesmo que um pequeno trecho. Também destacamos aqui o português do vocalista Oliver Sykes, que é casado com uma brasileira, e interagiu quase o tempo todo em nosso idioma. No meio da música “Happy Song”, quando já haviam dois mosh pits de tamanho considerável na plateia, pediu: “Eu preciso mosh pits, não um, não dois, eu preciso três mosh pits. Tranquilo?” E conseguiu.
#OsBrasileiros
Aqui não cabe a cascata dos Tribalistas. É outra parada.
A pulsante cena independente da música brasileira, e aqui entra de indie instrumental a cantora pop porque a cena é DIVERSA, começa a cavar não só importantes espaços no line-up como atenção idem no geral. Isso já vem acontecendo há algumas edições, mas neste ano elas parecem mais bem cuidadas. Dos brazucas que a gente viu (sim, perdemos uma galera boa), teve o seguinte:
Se teve uma banda que teve sorte no Lollapalooza, essa foi a paulistana E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante. Tocar 11h55 do último dia de festival é um horário um pouco ingrato para uma banda de rock instrumental (a primeira banda instrumental a tocar no Lolla BR) fazer sua estreia num palco gigante. E ainda rolava a tensão vai-chover-não-vai, mas a idolatria dos fãs do Twenty One Pilots, que fecharia o palco Onix no domingo e desde cedo quis cavar um espaço perto da grade, ajudou a encorpar o público do show dos brasileiros, também com consideráveis fãs presentes para seu tamanho. Ainda sobre os “novos fãs” conquistados pelo EATNMPTD, rolou até gritinhos histéricos tipo: “Tocam muito!”, “Lindos”, “Joga a baqueta para mim”. A banda indie instrumental, à medida que via seu som preencher um palco daqueles, pareciam à vontade por estar ali. Ornou.
A Iza é um monumento no palco. Tocando no menor dos quatro stages, ela parecia não acreditar no tanto de gente que colou em seu show e estava cantando tudo. Além do hit “Pesadão”, que contou com a participação do Marcelo Falcão, a Iza ainda teve tempo de colocar covers tipo “Bad Romance”, da Lady Gaga, e “What’s My Name”, da Rihanna. Rolou até um Natiruts, para a mistura pop se completar. Destaque também para os bailarinos dela, bem entrosados com ela e que parecem não querer sair do palco mesmo quando o show acaba.
A Luiza Lian parecia uma sereia futurista minimalista com um look rosa, pode classificar assim? Acompanhada apenas pelo músico multibanda Charles Txier e um telão com projeções psicodélicas apropriadas para colorir a ocasião, ela fez dos shows mais bonitos do domingo, com um setlist que contemplou as músicas de seu último álbum, “Azul Moderno”. A Luiza é uma artista que consegue navegar e se apropriar de muitos ritmos nacionais. No Lolla, foi o momento de entender a cantora como uma nova princesa do “indie brasilidades”.
O rapper carioca BK bombou a parada, cedão, no palco principal. Foi ao mesmo tempo um show de festa e protesto, sem perder a toada. BK e os meninos do Bloco Sete, que sempre participam de seus shows, são do selo Pirâmide Perdida, que traz basicamente os expoentes do rap BR. Um acerto do festival em abrir uma porta para essa galera. O rapper Luccas Carlos subiu ao palco no fim do show pra se divertir junto dos amigos. Na plateia toda galera do novo rap, como Tassia Reis, Sain e Djonga, acompanhando tudo, empolgados. Irmandade representada. Bloc party particular. Tudo muito certo.
A banda goiana Brvnks teve um pouco do mesmo fator sorte na sexta feira, já que pegou o bonde público do Arctic Monkeys, que chegou cedo para guardar lugar. O show foi um derrame de “indie true”, rápido e às vezes divertido que a gente ama desde os grupos femininos dos anos 90, aqui representado com fofura-punk pela vocalista Bruna, a Brvnks herself. O momento mais tocante foi quando ela se emocionou ao cantar “Fred”, novo single da banda, que é uma homenagem a amigo que faleceu não tem muito tempo. Já “Tristinha”, apesar do nome, animou principalmente as meninas que estavam no público esperando os Monkeys e tipo angariou uma forte representação feminina ao show, espelho do que rola muito na cena. Som bom e engajado saiu dessa apresentação da Brvnks, pequena mas cheia de grandes intenções. Tipo a Letrux, em seu (para variar) showzão no domingo. A mulher é dona do palco, dona dos palcos todos. Cantando, dançando, protestando contra o próprio festival, contra o governo, em nome das mulheres. No palco, seu ótimo álbum “Em Noite de Climão” ganha em peso e força. Mérito da banda que a acompanha, mérito todo dela de encorporar uma artista sem aliviar para nenhum lado. Porque fazer arte, mesmo, ainda mais num país zoado como o Brasil, é isso. E quando você tem músicas boas e um show bom…
***
COBERTURA POPLOAD – Lúcio Ribeiro, Fernando Scockzynski Filho, Vinícius Felix e Isadora Almeida (textos). Fabrício Viana e Rodolfo Yuzo (fotos e vídeos).
>>